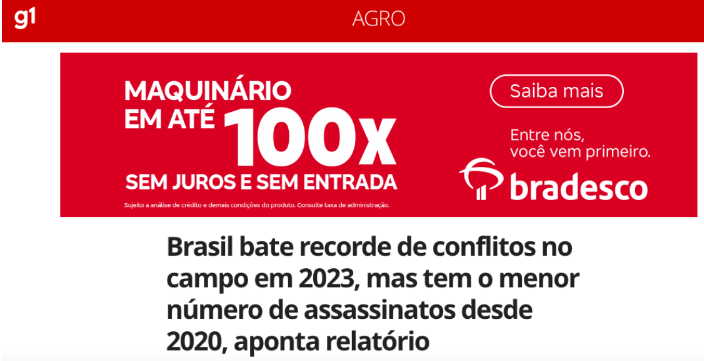Crédito: Isabelle Rieger/Sul21
Por Eloisa Beling Loose* e Cláudia Herte de Moraes**
As enchentes severas em diferentes municípios gaúchos provocaram uma fuga em massa. Muitos gaúchos tiveram que abandonar suas casas. Impossível não se comover com as imagens de desabrigados e desalojados, com poucos pertences, carregando crianças, animais domésticos e o que mais pudesse ser levado nas mãos diante do caos instalado. Para onde ir?
A situação vivenciada por grande parte da população atingida, transmitida por canais de comunicação diversos, acabou trazendo à tona a expressão “refugiado climático”. O repórter Juliano Castro, da RBS, foi um dos primeiros a trazer essa questão para a cobertura das enchentes na televisão. Depois disso, muitos outros jornalistas e comentaristas colaboraram para popularizar a ideia de que, se não fosse a crise climática, essas pessoas não teriam que deixar suas casas.
O Nexo trouxe este debate, indicando que o uso do termo pode ser uma forma de clamar pela atenção ao desafio da emergência climática, que passa a ser cada vez mais presente na vida de milhões de pessoas no planeta.
Na cobertura da imprensa, ao longo dos últimos dias, pode-se observar que tanto as imagens como a referência ao deslocamento humano são destacados. G1, Uol, Folha de S.Paulo e outros veículos enfatizaram a questão em seus títulos. As cidades foram abandonadas porque foram inundadas e/ou ainda apresentavam riscos de isolamento, desabastecimento, dentre outros. A imagem de “cidades fantasmas”, como foram retratadas Porto Alegre e Eldorado do Sul, reforçam o efeito do deslocamento massivo.
Há uma diferença entre deslocados e refugiados climáticos/ambientais: os primeiros seriam aqueles sujeitos à migração forçada por catástrofes climáticas, mas que não chegaram a atravessar fronteiras internacionais; já os refugiados são aqueles que, motivados pela mesma situação, são obrigados a deixar seu país de origem. A situação dos refugiados climáticos está inserida no Direito Internacional, com regulação específica e uma agência da ONU dedicada ao tema, a ACNUR. Juridicamente, a expressão “refugiado” não deve ser usada no caso da situação vivenciada pelos gaúchos. Ademais, é preciso ter cuidado para não banalizar o uso, já que a saída temporária das casas não é o mesmo que não conseguir retornar para o lugar em que se vivia devido às consequências geradas pelas chuvas fortes.
No entanto, sob o ponto de vista do jornalismo, faz sentido nomear essa consequência das enchentes com o adjetivo climático, realçando a conexão entre a intensificação das mudanças climáticas e a maior frequência dos eventos extremos. Além disso, dar visibilidade ao números de desabrigados e desalojados revela parte da dimensão da tragédia, já que ser obrigado a deixar o lugar que se vive, para além dos prejuízos materiais, traz perdas imateriais, de memórias, pertencimento e convívio, que são imensuráveis.
A crônica da jornalista Juliana Bublitz, de ZH, descreve os momentos em que os moradores de classe média da capital Porto Alegre são avisados sobre a urgência da evacuação no dia 6 de maio. A cena é de estranhamento, com ruas lotadas, impaciência, insegurança, medo, incerteza. O relato lembra o sentido de estar fora de seu lugar, traz a dimensão humana do desastre que se transfigura em tragédia diante de fatores agravantes, como a falta da manutenção do sistema de bombas que retiravam a água da cidade. Contudo, é sempre bom ressaltar, as classes vulnerabilizadas tendem a sentir esse impacto de forma mais aguda e prolongada, por não terem as mesmas condições socioeconômicas para lidar com os efeitos em cascata provocados pela eclosão do desastre.
A análise de Leonardo Sakamoto no UOL, no mesmo dia, é direta: “Não temos guerra, mas teremos cada vez mais refugiados ambientais”. Ele afirma: “tudo o que tem acontecido, ocorrido, essas pessoas mortas, ilhadas, desaparecidas, desabrigadas, e esses refugiados ambientais. [Isso] que a gente tem que cravar. O pessoal fala ‘o Brasil não tem refugiados, tragédia, vulcão, terremoto, guerra’. Tem sim!”.
O resultado dos eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul é desolador. Levando-se em conta um dos pressupostos do Jornalismo Ambiental, o engajamento, pensamos que há pertinência de trazer a referência da urgência e da relevância dos fatos. Desta forma, o jornalismo demonstra sua função social e política na sociedade. Neste sentido, usar o termo refugiado climático pode ser um caminho para evidenciar a conexão com o colapso do clima. Isso aparece na reportagem do Intercept Brasil: “Segundo números da Defesa Civil, divulgados na manhã desta quarta-feira, 8, 95 mortes foram confirmadas, e há 128 pessoas desaparecidas. Mais de 158 mil gaúchos precisaram deixar suas casas por causa das enchentes que assolam o estado. Nove mil só na capital, Porto Alegre. Mais de 66 mil pessoas estão em abrigos espalhados pelos 414 municípios afetados – mais de dois terços do estado. São os chamados refugiados climáticos: pessoas submetidas a um deslocamento forçado por conta de um evento climático extremo que coloca em risco sua existência.”
No dia 8 de maio, em função da calamidade gaúcha, um projeto de lei foi apresentado pedindo a definição da condição de “deslocado interno por questões climáticas”, como informa Sakamoto. A proposta do deputado pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) diz que “Entende-se como deslocado interno por questões climáticas, qualquer pessoa, residente no Brasil, forçada a deixar seu habitat tradicional, temporária ou permanentemente, por causa de uma perturbação ambiental acentuada, desencadeada ou não por terceiros, que comprometam sua existência e/ou afete seriamente sua qualidade de vida”. O objetivo desta mudança é facilitar o acesso a políticas públicas, em especial ao financiamento da casa própria no programa Minha Casa, Minha Vida. A questão foi repercutida no UOL, por Sarah Moura. no dia 9 de maio.
Assim, embora o termo siga em discussão nos organismos internacionais de Direitos Humanos para uma definição aceita para fins jurídicos, na esfera do debate público e diante da calamidade e do sofrimento humano, acreditamos que o uso das expressões refugiado climático ou ambiental é uma forma de o jornalismo visibilizar algumas consequências humanas que nem sempre aparecem em meio à cobertura a partir dos números. Quem sabe, ao pensarmos no que sustenta a designação de um deslocado ou refugiado climático, possamos recordar que o objetivo maior de uma Nação é dar condições dignas de vida e segurança ao seu povo. E sem cuidado ambiental isso não é possível.
* Jornalista, doutora em Comunicação e em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Vice-líder do Grupo de Pesquisa Jornalismo Ambiental (CNPq/UFRGS). E-mail: eloisa.beling@gmail.com.
** Jornalista, doutora em Comunicação e Informação, professora na UFSM, Integrante do Grupo de Pesquisa Jornalismo Ambiental (CNPq/UFRGS). E-mail: claudia.moraes@ufsm.br.