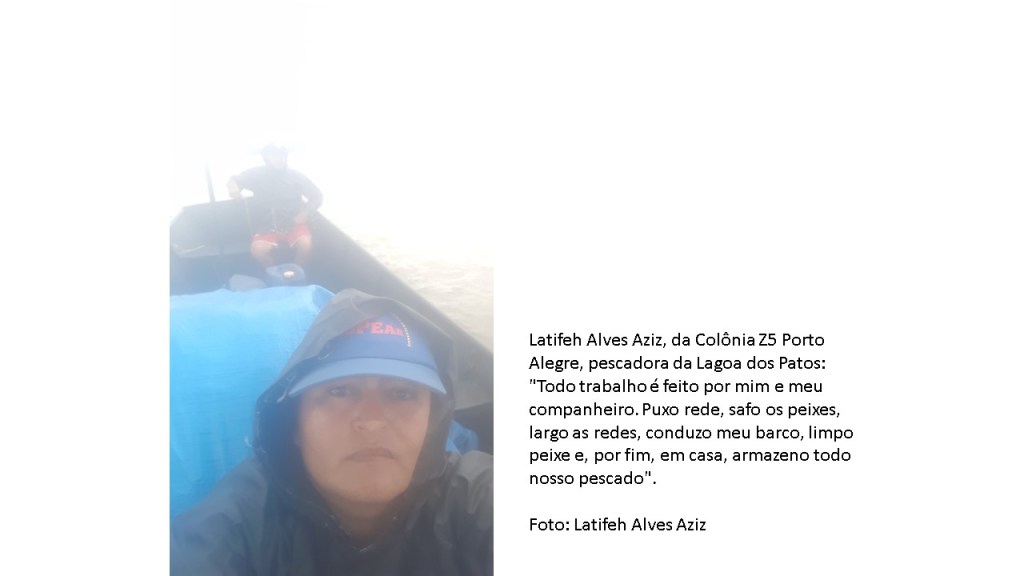Imagem: Pixabay.
Por Michel Misse Filho*
Um assunto por demais específico dominou a internet nos últimos dias, alcançando proporções bizarras: a polêmica em torno da posse de uma capivara silvestre, cuidada por um influencer, e vetor de uma campanha política contra órgãos da estatura do Ibama. Disfarçados de defensores dos animais, militantes bolsonaristas invocam um tipo de “petzação” do mundo para desviar o foco de questões ambientais realmente sérias e descredibilizar órgãos importantes de fiscalização. O tema é bem tratado na coluna de Rosana Hermann e o objetivo deste texto não é dar mais palco a uma cortina de fumaça: em contraposição, destacaremos uma cobertura grande de assuntos ambientais efetivamente relevantes na última semana.
Nosso foco é a Folha de São Paulo, que tem uma editoria própria para meio ambiente, com recorrente atualização de matérias próprias e de parceiros — O Globo também tem, mas circunscrita à editoria de Brasil. Um elogio pode ser feito à variedade dos assuntos, que envolvem pesquisas e soluções científicas; política nacional e internacional; mudanças climáticas; terras indígenas; desmatamento; extrativismo etc. Por exemplo, nos últimos dias foram publicadas duas reportagens de pesquisas financiadas pela FAPESP: esta, na prestigiosa Nature, projeta uma emissão de 96 milhões de toneladas de CO² entre 2013 e 2022 decorrente do desmatamento em terras indígenas, intensificada a partir de 2019. A outra pesquisa explora a recorrência e projeção de cada vez mais chuvas extremas no país, com municípios mais vulneráveis.
No rol de matérias publicadas pelo jornal, há muitas que são traduzidas de veículos internacionais. É comum que aquelas sobre mudanças climáticas venham de jornais como a BBC News, que alertou para o acelerado aquecimento dos oceanos, superando as expectativas de cientistas. A reportagem tem o ponto positivo de ser didática: explica possíveis causas do fenômeno, aborda as consequências e introduz a preocupação com o impacto do El Niño nas temperaturas. Já o jornal Financial Times publicou uma interessante reportagem sobre a contagem regressiva para o início da extração de minérios do fundo do mar, sob a controversa justificativa, por parte de empresas, de que isso aceleraria a transição para uma energia verde.
Por fim, o jornalismo produzido pela própria Folha. É patente, de um modo geral, a dificuldade de produção de reportagens ambientais profundas, investigativas — e por vezes as redações acabam presas apenas ao jornalismo factual, ou pior, às pautas trazidas por redes sociais (como o caso da capivara). Ainda assim, boas matérias seguem sendo publicadas, como esta, de Ana Carolina Amaral e Pedro Ladeira, sobre os desafios de contenção à exploração da Amazônia na região do Baixo Tapajós, no Pará. Os repórteres exploram o tripé antiambiental bolsonarista que deixou marcas na região: perseguição aos ativistas, apoio político e desregulamentação de normas.
Diante de pautas viralizadas pseudoambientais como a dos últimos dias, só o bom jornalismo pode ajudar. Por vezes, pautas ambientais parecem ainda excessivamente distantes do público, mas pegar carona na produção de veículos internacionais ajuda, com a publicação de temas diversificados. Ainda que não seja condição suficiente, uma editoria só para o tema, como faz a Folha, é condição necessária. Outros jornais deveriam fazer o mesmo.
* Jornalista, doutorando em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP/UERJ) e mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Integrante do Grupo de Pesquisa Jornalismo Ambiental (CNPq/UFRGS) e do Laboratório de Estudos Sociais dos Resíduos (UERJ). E-mail: michelmisse93@gmail.com.