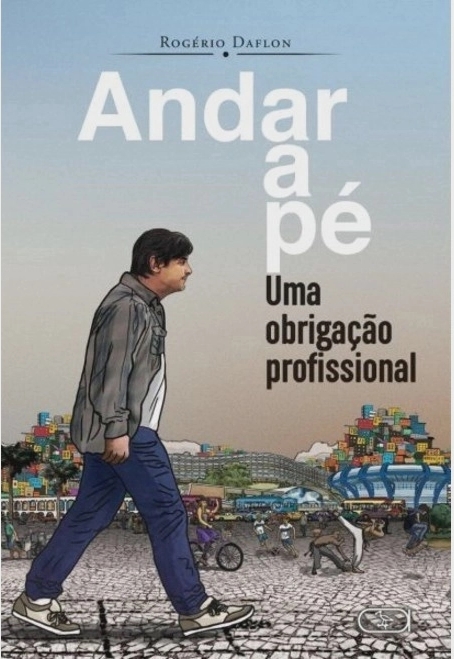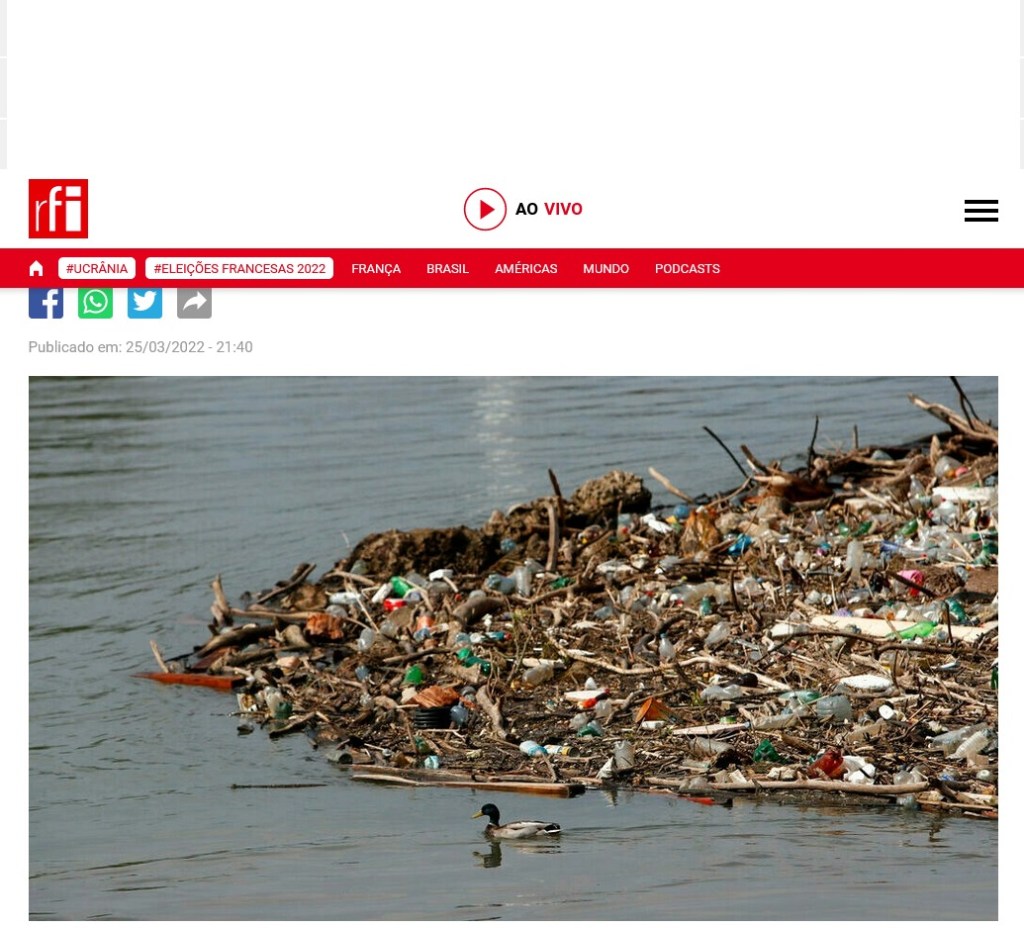Por Ilza Maria Tourinho Girardi*
A cobertura da imprensa local e nacional mobilizada em torno do desaparecimento de três homens não indígenas em Novo Repartimento, município do Pará, desde 24 de abril, motiva a análise crítica que se apresenta a seguir. Em primeiro, destaca-se a importância da contextualização sobre o lugar, um território indígena ancestral parakanã, que segundo Wikipédia, teve uma vila implantada pela empresa que construiu a Rodovia Transamazônica e, após, uma nova mudança no território com a inundação pelas águas da barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Por isso, de um lado, o povo parakanã foi removido de suas áreas originais e circunscrito na Terra Indígena Parakanã, homologada em 1991, com 352 mil hectares e, de outro lado, o povo não indígena ficou alocado no município criado também em 1991, Novo Repartimento. Por fim, merece ser destacado ainda, que em 16 de abril, o Ministério Público Federal, o MPF, ouviu de lideranças parakanã o pedido de concretizar a desintrusão (retirada de não indígenas de uma terra indígena) de madeireiros e garimpeiros das suas áreas, conforme a lei vigente.
A circulação de não indígenas é frequente no território do povo parakanã apesar da sinalização, da lei vigente e dos apelos dos próprios indígenas com o apoio de entidades indigenistas. E, no domingo 24 de abril, ganhou repercussão o desaparecimento de três caçadores que entraram sem ser convidados na Terra Parakanã, no Pará. Importa saber que não foram convidados porque os habitantes não tinham ciência da presença desses homens nas suas áreas, o que só aconteceu após os indígenas receberem diversas ameaças e acusações de envolvimento com o desaparecimento e/ou a morte deles.
Em geral, as notícias informaram que, familiares de Cosmo Ribeiro de Sousa, William Santos Câmara e José Luiz da Silva Teixeira fecharam um trecho da BR-230 Transamazônica por três dias exigindo que as autoridades entrassem na terra indígena para realizar as buscas. Após a autorização da Justiça, a rodovia foi liberada na noite de quinta-feira (28). O Ministério Público Federal pediu a instauração de inquérito pela Polícia Federal. Desde quinta-feira (28), após autorização da Justiça, mais de 150 agentes das polícias Federal e Militar, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Corpo de Bombeiros saíram em busca dos três homens. A notícia foi repercutida em vários órgãos da imprensa. Para esta análise, foram selecionadas algumas que apresentam pistas sobre como produção das matérias foi conduzida.
Com a chamada “Três caçadores estão desaparecidos na Reserva Indígena Parakanã, em Novo Repartimento no sudoeste do Pará” o Jornal Liberal 2ª edição, de 26 de abril, relata a ocorrência e informa que o Ministério Público Federal acompanha as buscas e está em contato com a FUNAI, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal para evitar qualquer tipo de conflito entre os indígenas e os não indígenas. Informa ainda, mostrando as imagens, que os familiares fecharam um trecho da Transamazônica e o clima ficou um pouco tenso. A repórter relata que, conforme o Ministério Público Federal, moradores armados teriam ido até o local onde os caçadores sumiram e acusaram indígenas pelo desaparecimento dos três homens. Esclarece que segundo o Ministério Público Federal os indígenas apoiam as investigações.
No Jornal Hoje, da emissora Globo, de 30 de abril, o apresentador relata que a Polícia Federal encontrou três corpos na terra indígena Parakanã, no Pará, e que segundo as autoridades ainda não foi possível identificar os mortos.
A notícia do G1 “Autoridades federais fazem buscas a caçadores desaparecidos na Terra Indígena Parakanã, no PA”, acrescenta que a “área da reserva Parakanã tem tamanho equivalente a 350 mil campos de futebol e abriga cerca de 23 aldeias, com uma população de 1,5 mil indígenas”.
Veiculada no Portal Terra, em 28 de abril, a notícia “Caçadores desaparecem em terra indígena; clima é de tensão no sudoeste do Pará”, informa que três homens invadiram a terra indígena para caçar em Novo Repartimento. De acordo com a matéria “Moradores da região acusam indígenas pelo sumiço dos caçadores e falam em retaliação. Um grupo teria invadido uma escola indígena e agredido estudantesda aldeia”. Os indígenas, da etnia awaeté, passaram a receber ameaças diretamente e por meio de redes sociais. Esta notícia cita como fonte o Ministério Público Federal (MPF) do Pará, segundo o qual moradores da região entraram armados na reserva para ameaçar os indígenas. A indígena TaranaParakanã, estudante de Letras, contou que não indígenas invadiram a escola, no Posto Taxakoakwera, agrediram estudantes e, alguns portavam armas.
Conforme a mesma matéria, outra fonte citada através de nota, professores do Instituto Federal Rural do Pará, ao qual a escola é vinculada, cobraram uma ação enérgica das autoridades nas buscas pelos caçadores desaparecidos e denunciaram que os indígenas estão sendo alvo de preconceitos, já que não há nenhum indício de que tenham responsabilidade pelo desaparecimento deles. “O branco está invadindo as nossas terras e ameaçando o meu povo de morte”, disse, em vídeo, o cacique da aldeia Parano’wa, Xeteria Parakanã.
Ainda de acordo com a matéria, o MPF informou que está em contato com a Fundação Nacional do Índio (Funai), a Polícia Federal e a Polícia Militar do Estado para as buscas aos desaparecidos e a proteção da comunidade indígena. A PF e a PM confirmaram o envio de efetivo para prestar apoio e minimizar a possibilidade de ocorrência de um conflito. A Funai informou que um grupo de mediação de conflitos acompanha a situação que, no momento, é tranquila. A entrada de pessoas estranhas ao grupo é proibida em terras indígenas, segundo lei federal de 1973. A TI Parakanã, com 352 mil hectares, possui 24 aldeias, onde vivem 1,4 mil indígenas, e está a cerca de 30 km da área urbana de Novo Repartimento. Devido ao contato recente com o homem branco, há menos de quatro décadas, os awaetés não dominam bem a língua portuguesa.
Contextualização importante, faz esta matéria ao recordar que em 25 de dezembro de 2013, cerca de 3 mil moradores de Humaitá, no sul do Amazonas, atearam fogo em prédios da Funai e postos de saúde indígena em protesto contra o desaparecimento de três homens na Transamazônica, quando cruzaram de carro a Terra Indígena Tenharim. Os revoltosos responsabilizavam os índios pelos desaparecimentos, que seriam por vingança. Três dias antes, um cacique Tenharim tinha sido encontrado morto na Transamazônica. Carros, ambulâncias e até um barco que atendia as populações indígenas também foram incendiados. Ameaçados de linchamento, os indígenas que moravam na cidade se refugiaram no Batalhão do Exército. Os corpos dos desaparecidos foram achados no dia 3 de fevereiro, em uma vala, no interior da reserva. Cinco tenharins foram presos, acusados pelas mortes. Em novembro de 2015, eles foram colocados em liberdade condicional e ainda esperam julgamento.
A notícia publicada em 30 de abril no Correio de Carajás, além de outras informações acrescenta que o juiz federal Heitor Moura Gomes, da Subseção Judiciária de Tucuruí, assinou ordem de busca e apreensão na área da Reserva Indígena Parakanã, em Novo Repartimento, para localizar os três homens. Além de determinar a desobstrução do trecho interditado da BR-230 (Transamazônica), que foi ocupada um dia depois do desaparecimento, se estendia a toda a área de 325 mil ha da Reserva Parakanã, composta pelas aldeias Paranatinga, O’Ayga, Paranowaona, Itaoenawa, Itaygara, Paranoawe, Paranoita, Paranoa, Maroxewara, Inaxyganga, Itapeyga, Paranoema, Itaygo’a,Inatarona, Xaraira, Xataopawa, Parano’ona e Arawayaga.
No dia 27 de abril o portal Amazônia Real publica a matéria “Sumiço de caçadores faz população se revoltar contra os Parakanã”, com informações detalhadas. Relata a agressão sofrida pelos alunos dos Cursos de Agroecologia e Magistério Indígena do Campus Rural de Marabá do IFPA, por volta de 13h15min, deflagrada por familiares dos desaparecidos. O ocorrido resultou numa nota conjunta assinada por professores e pela coordenação do Curso de Magistério Indígena (IFPA/CRMB). Conforme a nota os indígenas receberam os familiares dos homens desaparecidos, que ao solicitarem ajuda nas buscas por seus filhos, foram atendidos pelos indígenas. A reunião estava se encaminhando bem até que um sargento da Polícia Militar de Novo Repartimento disse ter recebido informações de um desaparecimento seguido de cárcere privado. Mas, um professor, segundo a nota, se manifestou sobre a informação que tinham de dentro do território: “O senhor ou seu informante não estariam equivocados? Aqui até o momento não houve ‘cárcere privado’.”
No mesmo dia (27/04), a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, publicou a matéria “Povo Awaeté da T.I. Parakanã sofre ameaças após sumiço de caçadores em suas terras”. O texto faz um relato detalhado da reunião das duas mães e um pai dos caçadores desaparecidos com as lideranças indígenas, a mesma referida na notícia que destacamos acima. Porém, mostra a escuta entre as partes, como através do pedido de desculpas do sargento da Polícia Militar ao ter a situação esclarecida diante das informações que trouxe sobre “cárcere privado”. A nota da APIB segue problematizando a cobertura da imprensa:
“Por que tanta desinformação? O que justificaria a construção tão rápida de argumentos incondizentes com o ocorrido? Por que tamanho ódio aos indígenas? Por que uma mídia local reproduziria a narrativa do ‘cárcere privado’ no dia seguinte? Qual o interesse dos agentes políticos e econômicos da região nesta nova fricção com os indígenas Awaeté?”
A nota esclarece que os Awaeté-Parakana têm contato recente, em torno de 40 anos, com os não indígenas. Poucos falam português e outros estão estudando a língua; tomamos como óbvia esta necessidade, e acrescentamos a igual reflexão sobre se os não indígenas da região estão fazendo o mesmo esforço de aprender uma língua diferente.
“Vivem ainda sob as sequelas do deslocamento compulsório da Eletronorte para a Construção da Hidroelétrica de Tucuruí e de uma Tutela traumática do Programa Parakanã,” consta no Relato. Hoje algumas aldeias estão sitiadas por não indígenas hostis aos Awaeté.
“Áudios com ameaça à vida dos indígenas começam a circular. Um clima de insegurança e ameaças vêm aumentando e preocupando os Awaeté e seus parceiros institucionais, como os/as professores/as dos cursos de Magistério Indígena e Agroecologia. Esse episódio expõe a cobiça pelo fragmento de território Awaeté que compõe a T.I Parakanã, as ressalvas em relação aos Awaetépelos colonos da frente de expansão, a visão dos regionais sobre os Awaeté como atrasadores do desenvolvimento local ou como um grupo privilegiado com um programa da Eletronorte. Enfim, a carga de preconceitos e etnocentrismo vêm alcançando os desdobramentos nos corpos indígenas. Basta! Cobramos de todas as autoridades responsáveis a máxima proteção para os Awaeténeste momento.”
Como se observa as notícias mais completas foram as publicadas no Portal Terra, Amazônia Real e no site da APIB. Sendo que um dos principais aspectos, é a escuta de fontes indígenas, as quais ainda buscavam tomar pé dos acontecimentos em seu próprio território. As demais apresentam um viés quase acusatório aos indígenas e sequer apresentam um histórico dos conflitos na região provocados pelas invasões dos não indígenas às terras indígenas. É importante lembrar que as matérias não mencionaram que é crime caçar no Brasil, conforme a Lei 5197/67, de 3 de janeiro de 1967 e se fixaram na suspeita de que os indígenas seriam os autores dos crimes.
Caso o Jornal Liberal 2ª Edição tivesse consultado a matéria publicada na mesma emissora em 3 de agosto de 2018, com a duração de três minutos, teria tido mais argumentos para mostrar a situação da Terra Indígena que há anos sofre com invasões. Na época lideranças indígenas bloquearam um trecho da Transamazônica, notrecho Altamira – Belo Monte exigindo a retirada de madeireiros, fazendeiros e garimpeiros que invadiram a área, que é uma das mais desmatadas. A situação se agravou nos últimos anos com a grilagem. A reportagem, bem completa e informativa, se utiliza de dados do Instituto Socioambiental. A própria repórter diz que o processo de retirada de invasores não foi concluído. Isso demonstra o descaso do Governo Federal com a situação dos povos indígenas que são constantemente ameaçados no Brasil.
O jornalismo tem o compromisso com a verdade e com a cidadania, logo não deve contentar-se com informações superficiais, incompletas ainda mais quando se trata de tema tão grave que é a situação dos povos indígenas no Brasil que sofrem ataques constantes. Maior a responsabilidade num país onde o próprio Presidente da República não tem nenhum pudor ao expressar desconhecimento em relação aos povos indígenas, chegando ao ponto de conceder-se uma medalha de mérito indígena. Contextualizar e ouvir as fontes é um dever do jornalismo. Caso contrário, corre-se o risco de reforçar discursos racistas e excludentes que atendem interesses econômicos escusos.
O jornalismo ambiental nos ensina que é necessário ampliar o olhar e incorporar a ética do cuidado no seu fazer buscando contribuir com a mudança do pensamento no sentido de alcançar o apaziguamento na nossa relação com a natureza e os demais seres.
Fritjof Capra, em 1982, no livro O ponto de mutação faz um alerta que nos ajuda a entender melhor esse novo olhar: “os jornalistas deverão mudar, e seu modo de pensar, fragmentário, deverá tornar-se holístico, desenvolvendo uma ética profissional baseada na consciência social e ecológica.” (CAPRA,1982, p.400)
Referência:
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. São Paulo:1982, p.400
*Ilza Maria Tourinho Girardi é jornalista, professora titular aposentada da UFRGS, professora convidada no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, FABICO/UFRGS. Doutora em Ciência da Comunicação, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.